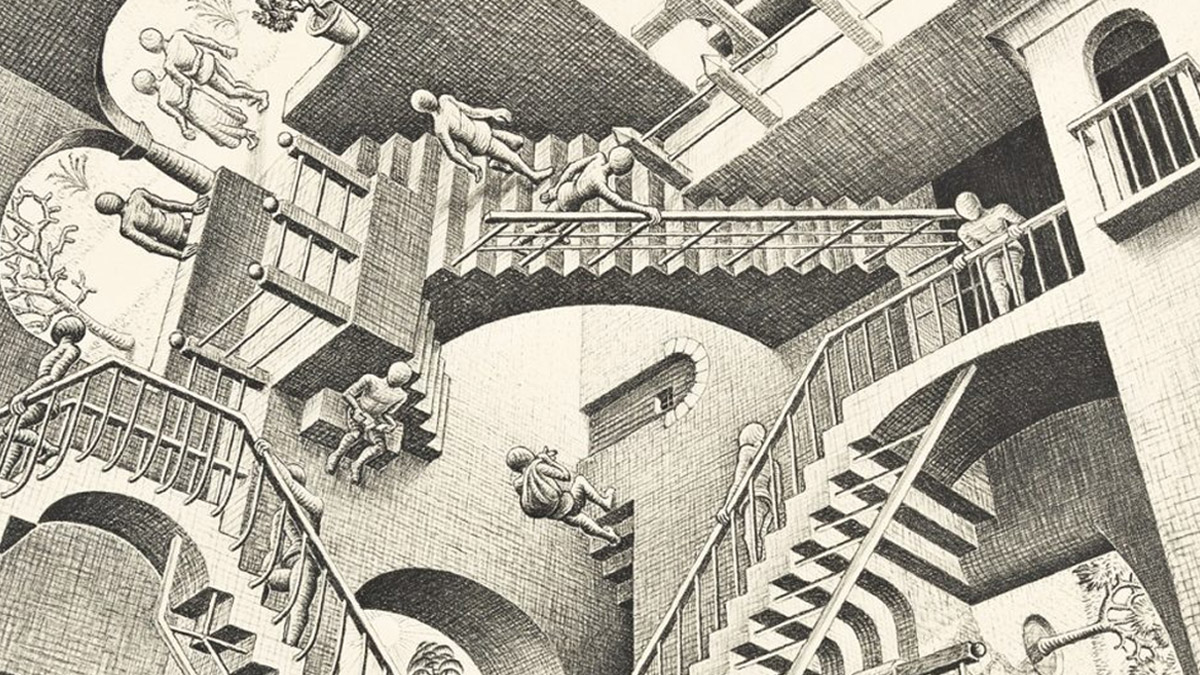Nas suas famosas conferências da Hillel House de 1950, “Jerusalém e Atenas”, Leo Strauss apresentou uma visão do que ele via como uma tensão fundamental (mas complementar) entre Jerusalém e Atenas ou entre as Sagradas Escrituras e a filosofia. Embora os teólogos cristãos possam discordar da abordagem de Strauss, e os estudiosos ateus e neo-liberais possam defender uma visão mais “inclusiva” das fontes da civilização ocidental, Strauss não tem problema nenhum em afirmar que a Civilização Ocidental como a conhecemos seria inconcebível sem a filosofia grega e a Bíblia. E está carregado de razão.
No processo contemporâneo de cancelar, modificar e, em alguns casos, abolir o legado do Ocidente, os clássicos gregos e cristãos têm sido atacados com virulência inaudita. Mesmo os críticos da modelo civilizacional que Platão e Cristo fundaram percebem que o produto das tradições clássicas e judaico-cristãs é um dos seus principais pilares, e a fim de destruir ou pelo menos redefinir o Ocidente, as referências da antiguidade greco-romana e as convicções decorrentes da mensagem de evangélica têm de desaparecer.
A este propósito vem “Plato Goes to China: The Classics and Chinese Nationalism“, o mais recente trabalho da professora de estudos clássicos da Universidade de Chicago Shadi Bartsch, que explora o processamento que os chineses têm feito do pensamento filosófico e político helenístico, da sua importância para o Ocidente e da relação de amor/ódio que com esse legado têm mantido.
O livro deriva de uma série de palestras que Bartsch proferiu no Oberlin College, em 2018 e que, como ela admite, suscitaram alguma controvérsia na China. O trabalho da professora de Chicago é especialmente adequado para o entendimento dos nossos conturbados tempos, relatando como nos Estados Unidosa educação mainstream está num estado de desorientação e implosão de referências, apesar de “pequenos pelotões” de cooperativas de ensino doméstico, escolas privadas cristãs e faculdades e universidades conservadoras estarem a capitalizar nos seus aparelhos curriculares a luminosa tradição clássica do Ocidente e a criar, de facto, um pequeno renascimento. Como observa Bartsch, a China está a viver um fenómeno semelhante, mas à sua própria maneira,
Bartsch introduz a sua tese com uma discussão sobre a famosa tentativa dos Jesuítas do século XVII de enraizarem o cristianismo e a filosofia escolástica que decorria de Aristóteles no logos dos intelectuais chineses. Para além das obras do mestre de Estagira que eram articuladas na “Summa Theologia” de S. Tomás de Aquino, os jesuítas levaram com eles para a Ásia trabalhos fundamentais como os “Elementos” de Euclides, e os manuais de Epicteto.
O encontro da China com o pensamento ocidental, contudo, foi encurtado pela visão recorrente entre os chineses de que a China era um “Império Celestial” que não tinha nada a aprender com alienígenas do submundo e assim, os esforços dos jesuítas foram em grande parte vãos.
No entanto, o interesse pelos clássicos ocidentais voltou no final do século XIX e início do século XX, quando alguns intelectuais chineses, durante a Dinastia Qing, insistiram na reforma do seu antigo país. O primeiro artigo sobre a “Política” de Aristóteles na China foi publicado na revista The New Citizen em 1898. The New Citizen era dirigida por um expatriado chinês que vivia no Japão, chamado Liang Qichao. A introdução do pensamento de Aristóteles ajudou a divulgar o conceito de cidadania numa China que convivia preferencialmente com o conceito de servidão daqueles sob o domínio da classe aristocrática.
Estas novas ideias liberais, enraizadas nos clássicos gregos, encontraram alguma resistência e incompreensão por parte da intelligentsia confucionista. No entanto, Bartsch argumenta que o interesse chinês pelo pensamento grego se prolongou, com algumas interrupções pronunciadas, até ao massacre da Praça Tiananmen de 1989.
Depois do processo de repressão sobre o livre arbítrio que resultou de Tiananmen, os pensadores chineses (alguns sob coacção) começaram a questionar o pensamento ocidental em geral e os clássicos em particular, com especial incidência na crítica de Platão. Um grupo de pensadores chineses publicou um artigo muito popular em 1992 chamado “Respostas Realistas e Escolhas Estratégicas para a China após a Desintegração da União Soviética”. Este foi um texto seminal que mais tarde ajudou a desdenhar o desenvolvimento daquilo a que Bartsch chama os “Neoconservadores e Confucionistas políticos”, que continuam a dominar grande parte do pensamento chinês contemporâneo. O ensaio defendia o afastamento do dualismo platónico e do materialismo dialéctico europeu e a adopção do pensamento tradicional chinês.
Há no entanto quem, na China contemporânea, defenda o estudo contínuo do pensamento clássico ocidental. Estas figuras estão localizadas em instituições como o Centro Universitário de Estudos Clássicos Ocidentais de Pequim, bem como nas Universidades de Fudan e Xangai. Os estudiosos destas instituições são, no entanto, em grande parte apolíticos. Existe, ainda, um segundo grupo de pensadores na China que tenta casar o pensamento grego clássico com um modelo socialista-confucionista do Partido Comunista Chinês (CCP) do século XXI.
Um número significativo de intelectuais chineses, no entanto, vê a tradição clássica como a fonte de corrupção no Ocidente ou um meio de criticar o seu modelo ontológico. Eric X. Li, por exemplo, escreveu um ensaio em 2012 para o The New York Times argumentando que tanto a democracia da antiga Atenas como a dos Estados Unidos eram alegadamente manifestações limitadas e imperfeitas da verdadeira democracia, que de qualquer forma é, em si mesma, uma anomalia na história universal.
O capítulo final de Bartsch, “Thoughts for the Present” (Pensamentos para o Presente), discute em registo realpolitik o futuro das relações sino-americanas e apresenta uma projecção sobre o destino dos clássicos nos Estados Unidos. Bartsch nota a amarga ironia de que os intelectuais chineses do século XXI parecem ter uma maior apreciação pelos clássicos do que os académicos ocidentais e isto já diz muito sobre o estado miserável em que decaíram as nossas universidades.
Bartsch nota que os críticos da tradição helenística no Ocidente e no Oriente têm tiques, dogmas e maniqueísmos em comum, concentrando-se em passagens seleccionadas das obras dos antigos pensadores gregos, em vez de recorrerem, como sempre se deve fazer em filosofia, a uma abordagem matizada e holística do pensamento dos filósofos.
Bartsch observa também que os pensadores americanos contemporâneos apropriaram-se igualmente dos clássicos para os seus próprios fins nacionalistas. O professor de Harvard Graham Allison, na sua obra de 2017 “Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap”, argumenta a favor da inevitabilidade de um conflito com a China. Tucídides comentou em “A Guerra do Peloponeso” que “O crescimento do poder de Atenas, e o alarme que inspirou em Esparta, tornou a guerra inevitável”. Allison argumenta igualmente que a ascensão da China ao poder irá colidir de forma semelhante com o alegado domínio americano.
Os chineses, previsivelmente, não reagiram bem a esta análise. Em resposta à tese de Allison, o autor chinês Guo Jiping (pseudónimo) respondeu no People’s Daily com um editorial que defende a cooperação em oposição à concorrência entre a China e os Estados Unidos. O editorial é idealista, considerando as actuais tensões internacionais e o espírito draconiano das administrações em Washington e em Pequim. Mas abre, pelo menos, o diálogo para um entendimento. A parábola niilista e determinista de Graham Allison, ainda por cima baseada numa circunstância histórica completamente diferente (Atenas não é Pequim e Esparta funciona até lindamente como a antítese de Washington), não proporciona qualquer plataforma desse género.
O que é mais chocante no livro de Bartsch é a constatação de que praticamente todos os pensadores chineses na academia estão a trabalhar para um futuro melhor para a China enquanto os académicos americanos se esforçam por trabalhar contra o seu próprio modelo civilizacional.
Alguns dos mais proeminentes pensadores chineses argumentam que o seu país deveria apropriar-se de métodos ocidentais; outros defendem a adesão a um modelo “puramente” chinês. Mas independentemente disso, a sua prioridade é a de enriquecer cultural, cognitiva e filosoficamente a sua nação. Esta observação não é, de forma alguma, um elogio das medidas totalitárias que o Partido Comunista Chinês utiliza para manter os seus intelectuais na linha. Mas não deixa de ser um factor de ponderação, no entendimento que devemos fazer sobre a direcção que os dois eixos civilizacionais estão a tomar.
Reconhecer a uniformidade intelectual na China, não traduz necessariamente um tremendo contraste com o Ocidente, já que a antiga escolástica iluminista que favorecia a livre investigação e o livre pensamento se transformou entretanto num sistema igualmente totalitário, através da qual os académicos quase universalmente defendem alterações radicais, se não mesmo a destruição, dos modelos filosóficos, políticos, sociais e identitários das suas próprias nações, sem permitirem contraditório.
Como o Ocidente será capaz de recuperar deste mau viver consigo próprio é difícil de prever. Mas se essa recuperação for realizada, o que neste momento não é líquido, será muito provavelmente, como o ContraCultura não se cansa de sugerir, pelo regresso às fontes intelectuais da tradição clássica, cuja riqueza e perenidade já serviram para fundar, na história universal, vários renascimentos.
Relacionados
22 Nov 24
A Visão
A Visão tem Idades que não percorrem uma linha cronológica, que coexistem num ponto comum e num grau variável de desenvolvimento e de expressão. Um breve ensaio de Bruno Santos.
5 Out 24
Diógenes Laércio e o elo sagrado entre a filosofia e a religião.
Como os gregos antigos, também os cristãos modernos não devem separar a religião da filosofia, porque o campo divino é racional e a consciência moral provém da sabedoria.
18 Set 24
O Eclipse da Razão,
de Max Horkheimer
Contrariando o iluminismo, o empirismo, o marxismo e qualquer tentativa de economia intelectual, Horkheimer desconstrói e dessacraliza dogmas caros à filosofia, à sociologia e à ciência política do Século XX. Um livro escrito noutro contexto histórico, para ler agora.
7 Set 24
Ética e Educação
A missão principal do professor, que é tanto ética como política, é a de ajudar os seus estudantes a fazer opções conscientes no umbral do “jardim dos caminhos que se bifurcam”. Um ensaio de Bruno Santos.
30 Ago 24
Ser moral é uma escolha.
Paulo H. Santos conclui que a recusa da moral cristã no Ocidente, é também a decisão de restringir a experiência da realidade histórica. Como testemunhamos nos tempos que correm, o preço a pagar por essa recusa e por essa decisão é excessivamente alto.
27 Jul 24
Elogio da solidão,
ou como a sós encontramos liberdade para sermos quem somos.
A solidão é uma aprendizagem da independência, um processo libertador e uma maneira, virtuosa, de nos conhecermos melhor a nós próprios, sem a pressão intrusiva da sociedade.