Márcio Alves Candoso (1959-2020) foi muitas coisas, entre as quais jornalista, polemista, tradutor, director de coro e agitador de tertúlias. Mas o seu primeiro e último ofício foi o da poesia. Publicou 2 volumes: “Antes do Destino” em 2015 e “Quando Tudo Era Tanto” em 2019. Ao redactor deste artigo, que teve o privilégio de ser amigo do Márcio, foi também concedida a honra de redigir o prefácio para a edição de 2019.
Da breve recensão crítica a “Antes do Destino”, escrita para o webzine de crítica literária “Deus Me Livro” há sete anos atrás, e do prefácio a “Quando Tudo Era Tanto” consta este elegia, que é aqui publicada com um indisfarçável carregamento de saudades.
Antes do Destino, ou a poesia dos totobolas sem prémio.
As edições de autor, em Portugal, transportam um estigma danado, muito pela antagónica razão de que não são, na verdade, edições de autor. São, regra geral, edições de editoras cuja vocação é publicar a obra de quem está disposto a pagar por isso. E não há problema algum com esse comércio, claro está. O drama só surge quando estas editoras, tendo como clientes escritores amadores, não mostram qualquer sinal do profissionalismo que devem, senão aos seus autores, certamente aos seus clientes (que, no caso, são a mesmíssima gente).
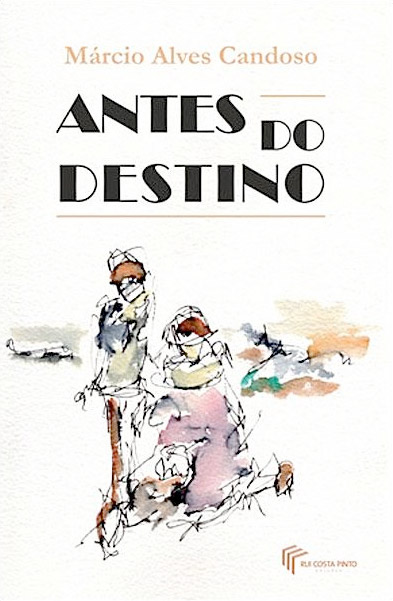
É preciso dizer que Márcio Alves Candoso não está interessado no poema pelo poema. Cada estrofe tem não sei quantas significações de forma e de conteúdo. Recusando a elipse e o vácuo, os versos correm multidimensionalmente em linhas rectas como setas e em todas as direcções da sintaxe e da semântica, na corrente eléctrica de alta voltagem que alimenta um existencialismo reinventado a partir do tudo e do nada.
Mostraremos as mamas, sim, filha,
e dormiremos tempos vastos nos colchões gastos
com totobolas sem prémio.
O autor “descasca o pessegueiro” da lírica com uma má disposição carismática e sem medo de ninguém. Entre o poeta e os outros cria-se um elo maldito de desdém apaixonado, uma vontade de vomitar que chega com mais ou menos rapidez ao orgasmo redentor, onde o entendimento é possível, mas não a concórdia. Há aqui uma veemência que precisa de muitos anos de vida e de bastantes porradas para ser verdadeira – e há muita verdade nestas páginas.
Que cretinosa, malcheirosa pieguice
messiânica vai chegar para abater esta vontade
com que, rubros os campos, astralmente vamos
expandir látimos de glória onde se arregalam
olhos de colossal conquista?
Manifestando-se num eixo instável e incongruente que percorre o trajecto infinito que vai de Horácio a Ginsberg, “Antes do Destino” é um livro quase enciclopédico. Carregado até mais não de referências e cruzamentos de referências, excessivamente epigrafado, com citações e dedicatórias a cada passo (outro aspecto em que se nota a ausência de um trabalho editorial mais rigoroso), este é um trabalho violento e generoso, quase obsceno, porque exige do leitor uma honestidade insustentável e demanda, do mundo, uma obediência que transgride os mais tolerantes protocolos.
Pára os pseudónimos e os tolos fingimentos
que chegou o tempo de beijar-te as coxas!
Para Márcio Alves Candoso, o amor é um tempo de cólera. Uma demanda utópica. E o sexo transforma-se num conto de fadas para maiores de 18 anos.
Quando Carolina do Mónaco perdeu os três assim,
como outra qualquer,
Cinderela deixou de correr ansiosa ao toque da meia noite.
Raramente encontramos, nos escaparates contemporâneos, poesia que pese tanto: gorda sem gorduras, anafada de misérias, alegre de angústias, eloquente de singularidades lexicais, mostra de versos raivosos e meias histórias arrancadas a ferros da existência, essa tágide-meretriz-mãe que vai parir, inevitavelmente, estrofes sónicas para ler aos gritos e com lágrimas.
E vim do chão, do sol, para rasgar a cabeça
com navetes que nos estalam a porcaria dos nervos.
E vim bêbado e límpido por dentro atrás do novo quinhão de raiva
que é ser nada fora da poesia.
(…) Vós sois folhas mortas
Eu venho da raíz e rumo às copas
às cúpulas e às cópulas
que não entendereis nunca!
O som e o ritmo são importantes, urgentes, para o poeta (como em Europa, um poema que reinventa o usa da língua e o destino de um continente), mas são apenas um meio para um fim. E o fim é a literatura, claro. A poesia de Márcio Alves Candoso não nasceu para ser coroada de louros, elevada pelos críticos ou glorificada pela posteridade. A sua missão é ser escrita e ser lida. Tudo o mais é menos que o desejo de regressar à erudição do zero absoluto:
Ah, quem me dera ser analfabeto!
__________________
A obra como destino. Um prefácio inútil.
Se é maior ser um Deus, que diz apenas
Com a vida o que o Homem com a voz:
Maior ainda é ser como o Destino
Que tem o silêncio por seu hino
E cuja face nunca se mostrou.
Fernando Pessoa
O Márcio Candoso não simpatiza com Pessoa por aí além e não vai gostar que o prefácio a este seu segundo livro de poemas comece como começa. Mas o Márcio, como qualquer outro grande poeta, não percebe realmente nada sobre a própria e sobre a alheia grandiosidade. É aliás precisamente por isso que os poetas devem agradecer à humanidade pela esquizofrénica existência de críticos literários e outros inócuos escribas que conseguem escrever coisas tão inócuas como prefácios.
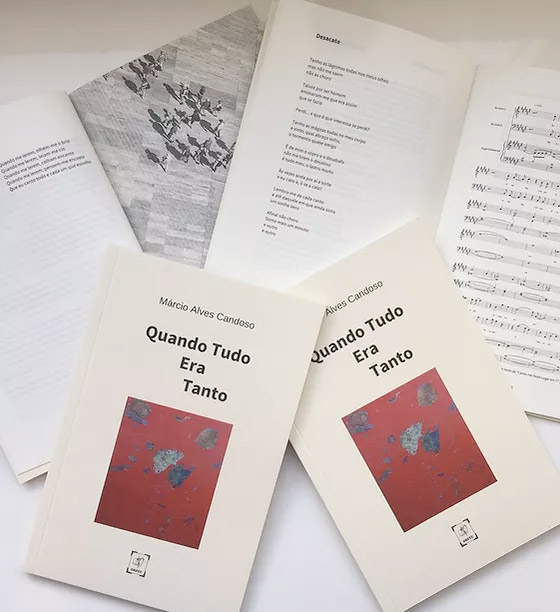
Na Física e no amor
Não há espaço para vazios
(Sejam de volume ou de área)
E p’ra esvaziar a dor
A ordem de qualquer factor
É por demais arbitrária!
Leis naturais à parte, o leitor mais esclarecido, mesmo que ainda no seu primeiro café da manhã, reparará inevitavelmente que este é um compêndio de versos imensamente carregado de um sentido existencial – não necessariamente existencialista – que é, no século XXI, de uma raridade arrepiante. Este fervor da vida concreta é, claro, para-ideológico: o poeta é de esquerda e de direita, nacionalista e internacionalista, conservador e liberal, reaccionário e revolucionário consoante a raiva que viaja no verso.
Eu vou
Vou de camisa preta, sangue vermelho
e dignidade imaculada
Vou de preto – a cor do meu luto por este
País que me estragaram
Vou de vermelho – porque é a minha força e guerra
(…)
Não vou à esquerda, nem à direita
nem muito menos ao centro… Vou acima
Levo comigo Viriato, comer a carne e o osso
Levo Afonso, que não quer
ser protectorado de ninguém…
Levo o Gama que me ensina o vento
Levo a pena e a espada
Levo os meus porque sou deles.
Levo os que não admitem
menos do que ficar na História
Este recurso recorrente à contradição em favor da coerência lírica é menos diletante do que militante. O Márcio Alves Candoso faz parte daquela espécie de cosmopolitas ao contrário que Voltaire gostava de convidar para jantar fora e esse cosmopolitismo de pernas para o ar torna-se de tal forma niilista, de tal forma inquiridor, que arrasa com os semáforos do bom senso e deixa o leitor com os pontos cardeais embrulhados num novelo electro-magnético de difícil resolução técnica.
Se eu fugir atordoado
para as montanhas do Nepal
e me passar para o Dalai la-rai-la-rai-lai-lai-Lama
serei mais feliz do que fumando
Lucky Strike numa reunião em Roma?
Mas atenção: diversos, intrincados e intrinsecamente paradoxais como são, os poemas aqui constantes não são passatempos, charadas, sudokus. Não são exercícios estilísticos ou panfletários; deseducados desafios à sensibilidade ou irritantes provocações à inteligência. Não são textos ensaísticos e armados em espertos nem trazem a promessa de uma qualquer terapia. Estes poemas não são de auto-ajuda nem recomendam dietas. Não são atenciosos com a forma como, por exemplo, são escravos do ritmo (o Márcio chama-lhe jazz). Não são preocupados com axiomas como são, assumida e distraidamente, enormes esponjas da história universal das boas ideias literárias venham-lá-elas-de-onde-vierem. Não respeitam especialmente as escolas, os maneirismos, os comodismos e as outras todas e resignadas abstrações da identidade. São cimento concreto, armado, com ferro lá dentro. São substanciais como um bife mal passado, prestes a ser devorado por Schopenhauer. São densos como as alegorias de Platão, mas sem a pretensão da fábula. São intensos como a cerveja de Rimbaud, mas não clamam pelo inferno. São sábios como os ensinamentos dos profetas, mas sem o LSD que foi preciso para umas semanas de deserto. São como os auto-retratos condenados à imperfeição do perfeccionista que era Rembrandt. Procuram, afinal como todos nós procuramos, um justo caminho para a salvação.
Não és nada, apenas um retrato a sépia de trunfa
mal iluminada, betume de interior do espaço
tão vazio como a cabeça dos que param
contigo à mesa dos medíocres orçamentos
do bafio dos ventos condicionados,
e do esquiço da aguarela mal pintada.
E interessa, isso? É postiço, praga!
E entesa? Não entesa nada!
Poesia lapidar, uma especialidade da apurada cozinha do autor. Mesmo quando se escrevem mais palavras, sempre, do que aquelas que surgem na impressão do menu. A maior parte das palavras que o Márcio despeja por cima do leitor nem precisam sequer da cumplicidade tecnológica de Gutenberg. Não têm necessidade do pigmento para estarem lá explícitas e para serem alegremente libertadas. Ficam gloriosas no que o verso deixa por dizer. E é por isso que tantas das estrofes deste livro são na verdade fantasmáticas. O poeta é uma manipulador único do fenómeno poltergeist a que usualmente chamamos magia negra. E o máximo feitiço desta poesia é que transcende até a necessidade da entrelinha. Ao invés da interpretação académica, temos a íntima, e assim profusa, liberdade de intuição. A leitura destas páginas traz a carne de cada um para fora da pele:
Quando pintaste a sacada, lembras-te?
Era eu que recitava a cor do Douro
E o Rio de la Plata, e o tango,
e a minha gravata e os teus chinelos
E esta é a pedagogia que toda a literatura deve trazer agarrada. Porque todos nos lembramos dos chinelos de cada situação, mesmo a mais romântica. Até a mais ridícula. Somos todos o Márcio, com a diferença absoluta de que só o Márcio é que soube escrever um poema com os chinelos e a gravata da comédia que todos nós guardamos em nós. O leitor será, prometo, invariavelmente apanhado em cuecas.
Neste sofisticado showroom da roupa interior da alma, não deixa, claro, de se exibir o grande romântico. Mas, convenhamos, a atitude romanesca que nos é sugerida em “Quando Tudo Era Tanto” deixaria Petrarca em estado de choque. A eterna Laura, musa medieva dos sonetos de métrica perfeita, é agora, setecentos anos depois, atingida com versos carregados electricamente com a alta voltagem do pragmatismo cínico – e todavia sincero – do homem pós-moderno.
Desculpa-me se te perco,
desculpa se não te chamo
eu descuido-me, incerto
na certeza que te tenho.
Deve porém o prefaciador alertar o paciente leitor: articular sobre o amor segundo o poeta Candoso é uma tarefa por demais ambiciosa e, porventura, vã. O diagnóstico do papel da mulher na sua poesia é, no mínimo, reservado. Gentil e paciente, materialista e exigente, a musa oscila com frequência assustadora entre a deusa, que excita até a fé dos ateus, e a vilã de telenovela venezuelana, que anula completamente o libido ao mais latino dos escribas.
Sei quase tudo de ti
Quando esperas, quando chegas primeiro
quando feres, quando raios que me partes
em cima, quando gostas dos meus ares
e imperas, ou lá o que é, quando sentes
no teu pé de laranja lima
como se eu me chamasse Zezé
e ainda por baixo
fosse pobre e muito pouco macho.
É claro que há sempre uma vulnerabilidade, quase clássica, sempre ridícula, na voz lírica que se atreve à confissão passional. Mas essa fraqueza, esse saber certo que existe em cada homem de que em cada mulher há uma fortaleza inexpugnável, é rapidamente transcendida através do recurso à mais rude sobranceria, também ela de gosto romano:
Agora ficas a saber tanto como eu
das vitórias e dos meus escombros
Vê se ficas calada e abres finalmente a boca.
Eu tenho do Céu o canto que te cometo
o fogo de Prometeu
e da próxima prometo que te encho a Alma
até ao útero.
Além do mais, o Márcio Alves Candoso – é preciso dizer isto – não tem uma enorme devoção por Homero, ou por Virgílio, ou por Cícero, ou por Hesíodo ou até por Juvenal, de quem herdou tantas comichões. O que não deixa de ser estrondosamente divertido, porque os versos dele são construídos daquela forma tão antiga como a literatura, em que os adjectivos passam rapidamente a substantivos por serem prodigiosamente poderosos e de tal forma colocados no seu perfeito lugar frásico que realmente fazem romba a navalha de Occam. Há em “Marte Bendito”, por exemplo, o claro sabor clássico de Camões (embora remixado numa versão Ridley Scott):
E a mim, Marte, chegaram os humanos
Em dia obscuro, com pesados instrumentos
O tormento que passaram foi bem claro
Mas recebi-os e aos sorrisos que então deram.
Que ao passar nesta atmosfera onde me empenho
Em mares que eles nunca ultrapassaram,
Só lhes deixo este conselho, que é fecundo
Bem vindos, a outra terra, a outro mundo!
E depois, claro, sempre conseguimos encontrar nesta proverbial maneira de dizer coisas absolutamente não proverbiais, o escárnio de um escrevinhador furioso que não tem medo de ninguém – e neste caso, podemos bem dizer que o homem é a sua literatura e vice-versa:
Livro, sou mais livre e tu definhas
como os teus secredos publicados
em linhas tortas.
“Quando Tudo Era Tanto” é uma espécie de manual de sobrevivência para as gerações vindouras, exactamente da mesma forma que o protocolo diplomático dos Xogun do século XVI, no Japão momentaneamente tolerante para com jesuítas e outros alienígenas, ajudou bastante a burocracia imperial do país no fim dos anos novecentos: ou te adaptas ao sexo oral que cada cliente exige ou vais à guerra. Nem é preciso dizer que nos versos que aqui encontrarás, gentil leitor, está todo o conflito bélico entre aquilo que o homem quer e aquilo que o homem tem. E se aquilo que o homem tem são uns quantos poemas (não necessariamente os que desejaria, mas os que foram escritos), será talvez melhor que sejam impressos. Será talvez melhor que sejam lidos.
Viste o filme? Corta agora! E manda publicar a fita.
Relacionados
13 Mar 25
Alexandre arenga as tropas:
o discurso de Ópis.
O mais célebre discurso militar da história, registado por um cronista romano cinco séculos depois do facto, é um mestrado em retórica que quase nos permite escutar a voz de Alexandre e da sua indomável vontade de conquista.
8 Mar 25
A Ilíada, Canto XXII: a morte de Heitor e a ira de Aquiles.
No Canto XXII da Ilíada ficamos a saber que, quando a guerra e a ira desequilibram a balança do destino, o mais digno dos homens pode ter o mais desonroso dos fins, e o mais divino dos guerreiros pode persistir na infâmia.
22 Fev 25
O Retrato de todos nós
"O Retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde, constitui-se como uma das mais contundentes críticas literárias à decadência moral promovida por um hedonismo desenfreado. É por isso importante revisitar a obra. Um ensaio de Walter Biancardine.
14 Fev 25
A Ilíada, Canto XVII: De cavalos imortais e humanos perecíveis.
No Canto XVII, Homero lembra-nos da nossa mortalidade e lamenta esse destino fatídico, em contraste com os dois cavalos eternos de Aquiles. Mas sem essa consciência da morte, sem a coragem e a liberdade moral de a enfrentar, que heróis haveria para cantar na Ilíada?
4 Fev 25
A Ilíada, Canto XVI (segunda parte): A humanidade de Heitor e a iniquidade de Aquiles
O Canto XVI da Ilíada lança um alerta que ecoa na eternidade: sempre que partes para a guerra, podes ter como inimigo o mais nobre dos homens. Podes ter como aliado um narciso. Prepara-te para sobreviver a esse dilema.
6 Dez 24
A Ilíada, Canto XVI: Os três assassinos de Pátroclo.
A morte de Pátroclo, que dará à Ilíada novas dimensões narrativas, é também um momento em que são expostas várias camadas da filosofia moral de Homero: o sangue paga-se com sangue; o remorso fala mais alto que o orgulho; a glória é vã.






