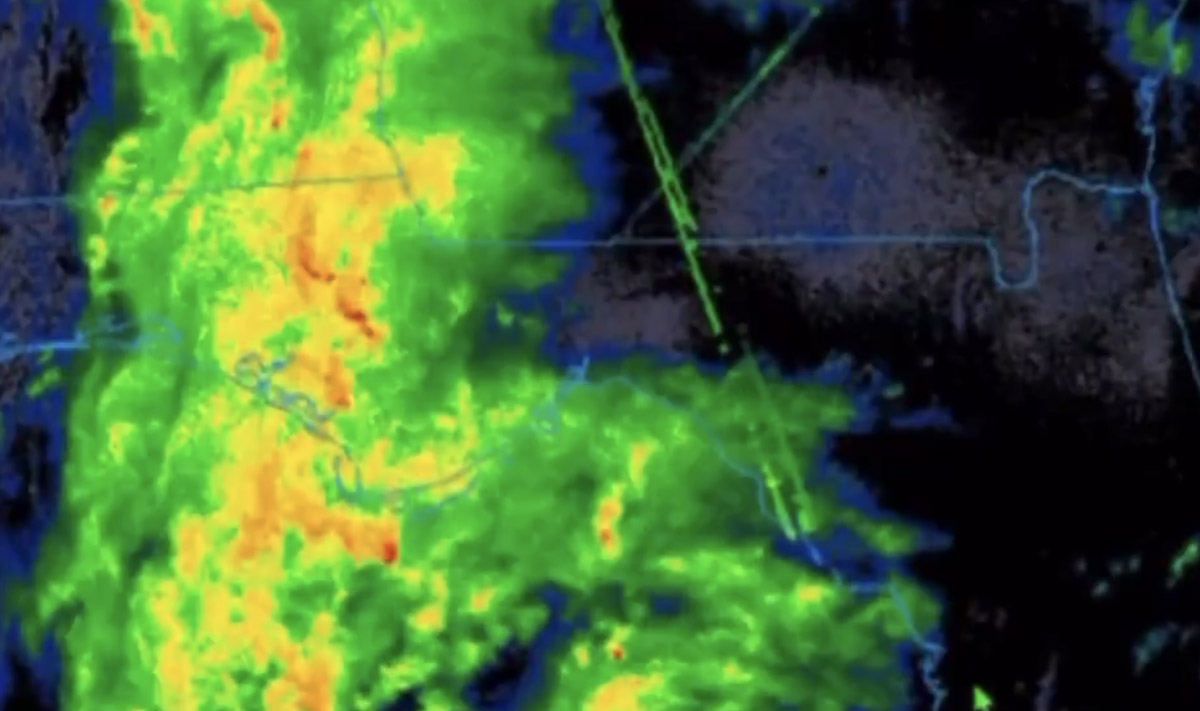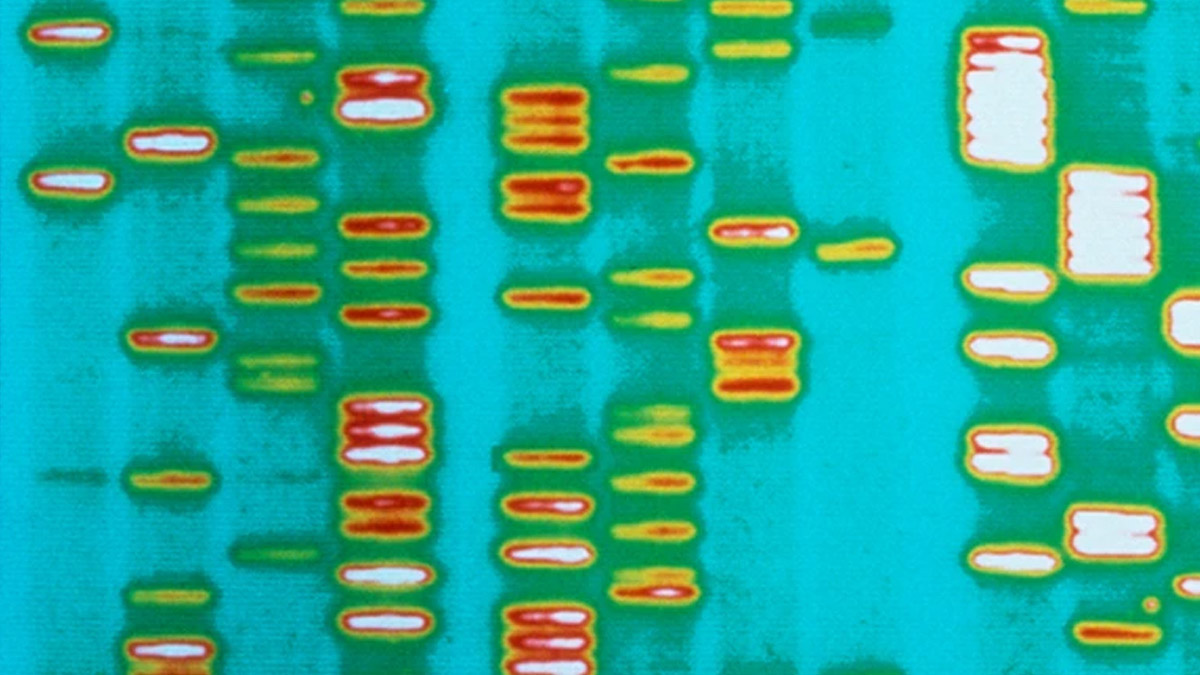Uma das questões mais intrigantes – e interessantes – que podem ser colocadas sobre a natureza humana é esta: porque raio é que pessoas vulgares, funcionais, racionais, civilizadas, emocionalmente capazes de amarem a sua família e moralmente disponíveis para serem solidárias com amigos ou estranhos, culturalmente aptas a apreciar os Concertos de Brandenburgo ou uma novela de Goethe, cumprem simultaneamente tarefas sinistras, como enfiar judeus em câmaras de gás, fuzilar milhares de civis ou matar à fome milhões de camponeses?
No âmbito da filosofia, Hannah Arendt é provavelmente a grande autoridade nesta matéria e já aqui no ContraCultura foi sucintamente documentado o seu inestimável contributo, mas no que respeita à psicologia e à sociologia é Stanley Milgram o homem-mestre deste intrincado assunto.
Em 1962, Milgram conduziu na Universidade de Yale aquela que é talvez a mais polémica experiência da história das ciência sociais. A experiência explica-se assim (texto adaptado da Wikipédia):
Os voluntários foram recrutados para uma experiência de laboratório de investigação em “aprendizagem”. Os participantes, 40 homens com idades entre 20 e 50 anos, cujas profissões variavam entre não qualificadas e especialistas, foram pagos pela sua participação (4,50 USD).
No início da experiência, foram apresentados a outro participante, que na verdade era um actor, cúmplice do estudo, e convidados a tirar o palito maior para determinar o seu papel na experiência – “aluno” ou “professor” – embora o sorteio fosse um logro, já que o cúmplice era sempre o “aluno”.
Participava também no estudo um “assistente”, vestido com uma bata cinzenta, interpretado por um discípulo de Milgram. Foram usadas duas salas do Laboratório de Interacção de Yale – uma para o “aluno”/actor, onde existia uma “cadeira eléctrica”, e outra para o “professor”/sujeito da experiência, com um gerador que, em teoria, libertava corrente eléctrica para a cadeira da outra sala.
Depois que o “aluno” tivesse memorizado uma lista de pares de palavras que lhe foi dada para aprender, o “professor” iria testar a sua memória, dizendo por um microfone a primeira palavra e pedindo ao “aluno” para recordar a sua parceira (fazer o par) de uma lista de quatro possíveis escolhas.
O “professor” teria que administrar um choque eléctrico de cada vez que o aluno cometesse um erro, aumentando a intensidade do choque progressivamente. Existiam 30 botões no gerador de choques eléctricos, que accionavam cargas entre 15 volts (ligeiro choque) e 450 volts (choque muito intenso). Logo depois das primeiras perguntas, o “aluno” começava a dar respostas erradas. A dada altura, o “professor” ouvia o “aluno” a gritar de dor e – mais à frente” – a pedir para ser solto da cadeira eléctrica e a apelar para o fim da experiência. Quando o “professor” hesitava em administrar um choque, era estimulado pelo assistente a continuar com o procedimento. Os estímulos eram os seguintes:
Estímulo 1: Por favor, continue.
Estímulo 2: A experiência requer que você continue.
Estímulo 3: É absolutamente essencial que você continue.
Estímulo 4: Você não tem outra escolha, a não ser continuar.Resultados: 65% (dois terços) dos participantes (ou seja, “professores”) continuou até o mais alto nível de 450 volts. Todos os participantes continuaram até 300 volts.
Perante os resultados absolutamente deprimentes, ficou claro que existe no ser humano uma tendência assustadora para a obediência irracional, para a cedência à pressão social e para agir em conformidade com o papel funcional. Os sujeitos sofriam com cada choque que infligiam ao “aluno”, protestavam com o assistente, mordiam-se todos, riam de nervosismo e desespero, suavam as estopinhas, mas continuavam a infligir o suplício do qual tinham sido incumbidos. Todos eles chegaram ao nível de descarga de 300 volts. E a larga maioria completou a experiência, que só terminava na descarga de 450 volts (!). Isto apesar do actor na pele de “aluno” gritar de dor a cada choque, de forma bem audível para o “professor”, e confessar até, a partir do momento em que as descargas atingiam valores superiores a 250 volts, que tinha problemas cardíacos e que a experiência estava a colocar a sua vida em risco.
Esta capacidade de torturar consistentemente um estranho, até ao ponto extremo de arriscar a sua vida, apenas porque um assistente de laboratório insiste, calmamente e sem qualquer ameaça para além das frases de estímulo, que a experiência deve continuar, é arrepiante; explica muito sobre os instintos básicos que governam o comportamento individual e psicossocial e fundamenta a tese da banalidade do mal: uma pessoa dita normal pode de facto cometer crimes hediondos, dado um contexto social específico.
Talvez por isso, a experiência de Milgram foi alvo de acesas críticas e a sua carreira académica foi severamente prejudicada por causa disso. As pessoas não gostam de ser confrontadas com os seus demónios. Mas deviam sê-lo mais vezes. Se não estivermos conscientes de quem somos, e do mal que vive dentro de nós, dificilmente o poderemos aplacar.
E as lições do psicólogo social americano não podiam ser mais pertinentes na actualidade, depois de, a propósito da pandemia, termos testemunhado, um pouco por todo o planeta, a exclusão social e retirada de direitos elementares a que foram submetidos os cidadãos não vacinados, o carácter desumano e ilegal, mas aprovado socialmente, dos confinamentos e, em casos extremos, o tratamento repulsivo a que foram submetidos os infectados.
Relacionados
14 Out 24
Uma nova era da exploração espacial: SpaceX recupera o propulsor da Starship.
Ontem aconteceu um episódio de ficção científica: A SpaceX conseguiu recuperar o enorme propulsor da Starship, agarrando-o em suspensão, como se fosse uma pena. O potencial do sistema, em termos tecnológicos e económicos, é incomensurável.
9 Out 24
De furacões e eleições #02:
Mais dados e testemunhos para alimentar a conspiração.
Como sempre acontece com as teorias da conspiração, os detalhes que parecem mais fantasiosos são rapidamente confirmados por factos. É o caso dos estranhos feixes de energia detectados no furacão Helena pelos radares de satélite.
19 Set 24
Estudo sul-coreano: Vacinas mRNA contra a Covid-19 aumentam o risco de miocardite em 620%.
As vacinas mRNA contra a Covid-19 aumentam o risco de miocardite em seis ordens de grandeza, de acordo com um estudo realizado por investigadores sul-coreanos, que só vem confirmar os números assustadores de centenas de outras pesquisas sobre o programa de vacinação.
17 Set 24
É mais que tempo de admitir que a genética não resolve por si só o mistério da vida.
A grande maioria das pessoas acredita que existem apenas duas formas alternativas de explicar as origens da vida biológica: o criacionismo ou o neodarwinismo. No seu novo livro, Philip Ball apresenta uma terceira alternativa.
16 Set 24
Cosmonautas russos encontraram bactérias na superfície exterior da Estação Espacial Internacional.
Cosmonautas russos encontraram bactérias vivas, possivelmente oriundas do espaço exterior, na superfície do segmento russo da Estação Espacial Internacional (ISS). As bactérias, que constituem uma forma de vida biológica, estão agora a ser estudadas na Terra.
13 Set 24
Estudo: Viver perto de explorações agrícolas que usem pesticidas traduz o mesmo risco de cancro que o consumo de tabaco
Um paper publicado recentemente numa revista científica revela que os indivíduos que vivem em comunidades agrícolas onde são pulverizados pesticidas enfrentam um risco de cancro comparável ao dos fumadores.