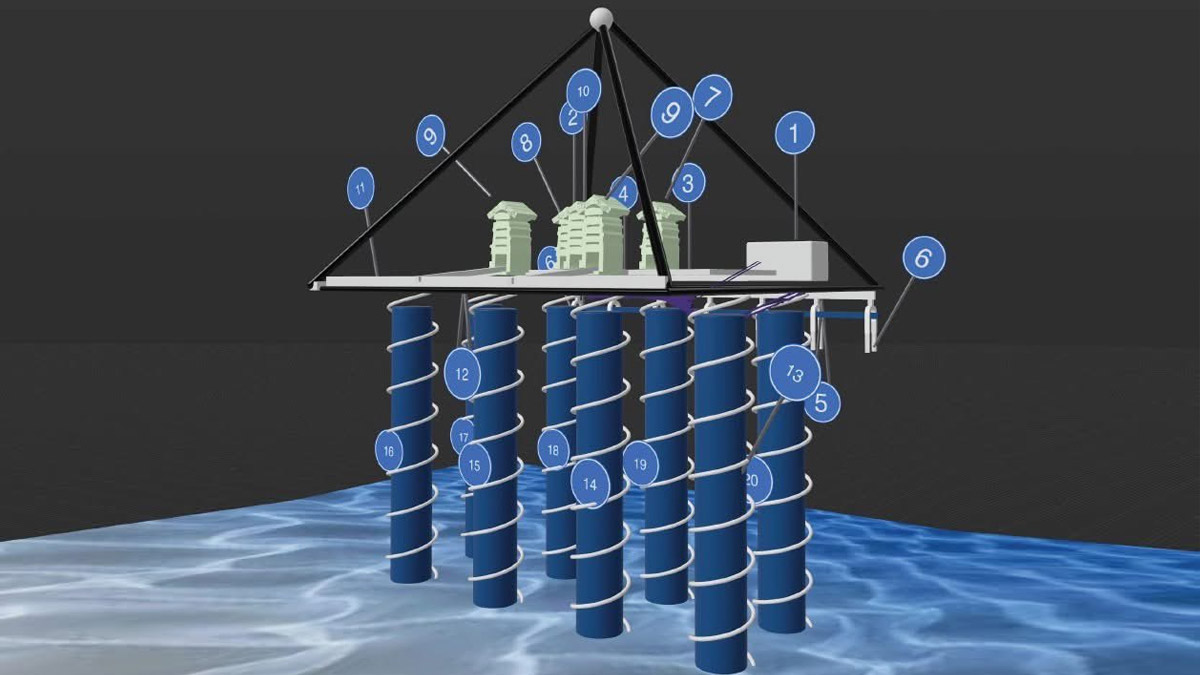“O primeiro preceito é nunca aceitar uma coisa como verdadeira enquanto não a souber como tal sem qualquer dúvida.”
René Descartes
Um dos contributos mais importantes de René Descartes para a história da epistemologia foi o seu Método, que consiste num irredutível cepticismo metodológico: duvida-se de cada ideia que não seja clara e distinta. Ou comprovável e replicável à luz da práctica científica. Ao contrário dos gregos antigos e dos escolásticos, que acreditavam que as coisas existem simplesmente porque é necessário que existam, ou porque assim deve ser, Descartes instituiu a dúvida: só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o acto de duvidar indubitável. Foi com estes claros fundamentos filosóficos que procurou demonstrar a existência do eu (“Penso, logo existo”) e de Deus.
Vem o pensamento do grande filósofo e matemático francês a propósito do actual estado da ciência, que está a passar por um doloroso exame de consciência, sem grandes precedentes epistemológicos. A credibilidade da ciência assenta no pressuposto generalizado de que os resultados do seu inquérito sobre a realidade são replicáveis e submetidos a padrões elevados de escrutínio pela revisão anónima de pares inquiridores. É preciso duvidar, é preciso verificar, para depois estabelecer o conhecimento. Mas estes pilares estão a desmoronar-se. Em Setembro de 2015, a prestigiada revista científica Nature publicou um cartoon que mostrava o templo da “Ciência Robusta” em estado de colapso.
Mas o que é que se passa afinal?
Para começar, a maioria dos documentos de pesquisa científica que são publicados apresentam falsos resultados. É mentira? Não. Num famoso ensaio que até já data de 2005, John P. A. Loannidis demonstrou estatisticamente que a afirmação é verdadeira.
Sendo que a margem de erro aceite pela comunidade científica ronda os 20%, a verdade é que a percentagem de negativos e falsos positivos ultrapassa largamente esse limite e pode até atingir valores inversos (80% de papers que apresentam conclusões erradas, 20% que apresentam conclusões certas), dadas as condições entrópicas ideais, como a presença de preconceitos, a multiplicação de variáveis em análise, um número acima da média de teses erradas antes da publicação, fontes já de si corrompidas pelos erros anteriores e etc.
As empresas farmacêuticas também deram o alarme há vários anos. Estavam preocupadas com o facto de uma proporção crescente de ensaios clínicos estar a falhar e de grande parte do seu oneroso esforço de investigação estar a ser desperdiçado. Quando analisaram as razões da sua falta de sucesso, aperceberam-se de que estavam a basear os projectos em artigos científicos publicados em revistas especializadas, partindo do princípio de que a maioria dos resultados era fiável. Mas quando olharam mais de perto, descobriram que a maioria desses artigos, mesmo os publicados em revistas académicas de primeira linha, não eram reproduzíveis. Em 2011, investigadores alemães da Bayer concluíram, através de um inquérito alargado, que mais de 75% dos resultados publicados não podiam ser validados. Estes números corroboram completamente o estudo iniciático de John P. A. Loannidis.
Em 2012, cientistas da empresa farmacêutica americana Amgen publicaram os resultados de um estudo em que seleccionaram 53 artigos-chave considerados “de referência” e tentaram reproduzi-los. Apenas 6 (11%) puderam ser confirmados. No mesmo ano, os governos dos países mais ricos do mundo gastaram 59 mil milhões de dólares em investigação biomédica, que se justificam pelo facto da pesquisa científica de base fornecer os fundamentos para o trabalho transformador das empresas farmacêuticas privadas. Portanto, este não é um problema trivial. Em 2013, surgiram sinais alarmantes de que grande parte da investigação publicada no domínio da psicologia experimental não podia ser replicada. Um estudo de replicação em grande escala efectuado por psicólogos e publicado no ano passado provocou novas ondas de choque no mundo científico, quando se verificou que cerca de dois terços dos estudos publicados nas principais revistas de psicologia não eram reproduzíveis.
No final do século XIX, muitos cientistas adoptaram um estilo de redacção que utilizava a voz passiva: “Um tubo de ensaio foi tomado…” em vez de “Peguei num tubo de ensaio…” para criar um estilo tão impessoal quanto possível e retratar um mundo de acontecimentos sem emoções, que se desenrolam espontaneamente perante um observador objectivo e distanciado. Mas é claro que na realidade os cientistas são pessoas e, tal como as outras pessoas, têm temperamentos e personalidades diferentes uns dos outros, são uns mais virtuosos – ou mais éticos – que outros, são frequentemente competitivos e preferem que a sua própria hipótese esteja certa em vez de errada. Na maior parte dos ramos da ciência, os cientistas publicam apenas uma pequena percentagem dos seus dados, 10% ou menos, e seleccionam obviamente os “melhores” resultados para publicar, deixando os dados inconvenientes ou inconclusivos no grande arquivo do esquecimento. O problema é agravado por um preconceito sistemático contra as réplicas dentro das ciências. Os investigadores que se dedicam a reproduzir o trabalho de outras pessoas têm dificuldade, se não mesmo impossibilidade, de ver os seus artigos publicados, porque a replicação não é considerada original, e a maioria das revistas orgulha-se de publicar investigação original.
Infelizmente, a progressão pessoal no mundo da ciência depende de incentivos que encorajam estas prácticas de investigação deveras questionáveis. As perspectivas de carreira, as promoções e as bolsas dos cientistas profissionais dependem do número de artigos que publicaram, do número de vezes que são citados e do prestígio das revistas em que são publicados. Existem, por conseguinte, incentivos poderosos para que as pessoas publiquem artigos apelativos com resultados positivos impressionantes. Se outros investigadores não conseguirem reproduzir os resultados, isso pode não ser descoberto durante anos, se é que chega a ser descoberto, e entretanto as suas carreiras avançaram e o sistema perpetua-se. No mundo dos negócios, os critérios de sucesso dependem da gestão bem sucedida, e não dos planos de negócios serem verificados por académicos ou frequentemente citados em publicações esotéricas de economia. Mas o estatuto no mundo da ciência depende das publicações em revistas científicas, e não dos efeitos prácticos no mundo real.
O problema, mais uma vez, é que o sistema de revisão por pares está a cair em descrédito. O próprio facto de serem publicados tantos artigos não fiáveis mostra que o sistema não está a funcionar eficazmente, e uma investigação recente da revista americana Science revelou alguns resultados chocantes. Um membro da equipa da Science escreveu um artigo falso, repleto de erros científicos e estatísticos, e enviou 304 versões do mesmo para uma série de revistas com revisão por pares. Foi aceite para publicação por mais de metade delas.
É óbvio que o actual sistema de investigação académica encoraja a publicação de resultados falsos positivos. Ao mesmo tempo, os enormes incentivos financeiros que estão na base da indústria multimilionária dos medicamentos encorajam a supressão de resultados negativos. Muitas empresas farmacêuticas simplesmente não publicam os resultados de estudos negativos que mostram que os seus medicamentos são ineficazes. Por outro lado, é claro que publicam os resultados de estudos positivos que argumentam em favor dos seus produtos. Na medida em que a “medicina baseada em provas” se fundamenta em estudos publicados, é criada uma impressão muito enganadora de objectividade científica, reflectindo um forte preconceito decorrente do interesse comercial das empresas farmacêuticas. Estas prácticas são demasiado comuns, como mostra Ben Goldacre no seu livro Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients (2012).
O psicólogo Nicholas Humphrey comparou esta crise da “ciência do subprime” à crise financeira de 2008. As suas implicações são de grande alcance, porque a ciência, como a economia, é um dos fundamentos da civilização como a entendemos.
Acrescem a esta crise de replicabilidade e rigor, dois outros graves problemas: por um lado e como o Contra já documentou, a comunidade científica produz cada vez menos conteúdo disruptivo, capaz de criar avanços significativos no conhecimento humano, contribuindo assim para um decréscimo no número de novas patentes e para uma estagnação no progresso tecnológico e industrial. Por outro, regista-se hoje em largos segmentos da população ocidental uma certa desconfiança em relação à comunidade científica, depois do desastre da peritagem durante a pandemia e da atitude dogmática e irresponsável em relação às vacinas.
A ciência não vive um bom momento. Resta aos seus intérpretes o necessário exercício de humildade que conduza à instalação dialéctiva do espírito crítico, hoje, se calhar mais do que nunca, necessários à reforma de protocolos e métodos, para que as ferramentas do conhecimento humano permaneçam minimamente operacionais.
Será talvez necessário revisitar a dúvida cartesiana, em detrimento do dogma escolástico. Afinal, é nos momentos de crise do saber e da consciência que mais razões encontramos para creditar os clássicos e reaprender com os seus ensinamentos. E Descartes tem, em definitivo, muito que ensinar às academias contemporâneas.
Relacionados
28 Mar 25
Sempre errado: Al Gore não dá, nem nunca deu, uma para a caixa.
Al Gore é capaz de ser o bilionário mais equivocado da história da humanidade. Durante toda a sua carreira de profecias, não acertou acertou uma. E as neves abundantes no Kilimanjaro são uma espécie de logótipo da sua delirante e fraudulenta imaginação.
27 Mar 25
RFK Jr. emite um grave aviso sobre a vacina contra a gripe aviária.
RFK jr. está a tentar contrariar a narrativa da vacina contra a gripe aviária, revelando verdades perturbadoras que as autoridades americanas estão a esconder. O método de combate à doença é muito parecido com aquele usado noutra pandemia. Adivinhem qual.
26 Mar 25
Documentos desclassificados da CIA falam de uma ancestral civilização alienígena que prosperou em Marte.
Numa revelação espantosa que desafia a compreensão científica convencional, surgiram recentemente documentos desclassificados da CIA que afirmam que seres inteligentes habitaram em tempos o planeta vermelho.
24 Mar 25
Investigadores afirmam ter descoberto “vastas estruturas” por baixo das Pirâmides de Gizé.
Dois investigadores italianos afirmam ter detectado, através de uma nova tecnologia de radar, um conjunto de imensas estruturas subterrâneas por baixo das pirâmides de Gizé, no Egipto. A descoberta, a confirmar-se, rebenta com a arqueologia mainstream.
21 Mar 25
Estudo com 20 anos de duração sobre o cancro da pele desmente os alegados perigos da exposição solar.
Aquilo que lhe tem sido dito sobre a exposição solar e o cancro da pele está errado. Um estudo realizado com quase 30.000 mulheres suecas descobriu que aquelas que evitam o sol têm um risco 60% maior de morte do que as que tomam banhos de sol regularmente.
14 Mar 25
Estudo de Yale revela vítimas da “síndrome pós-vacinação”
Até as universidades da 'Ivy League', que foram motores de propaganda pró-vacinação e de censura da dissidência durante a pandemia, estão agora a reconhecer os efeitos adversos das vacinas mRNA.