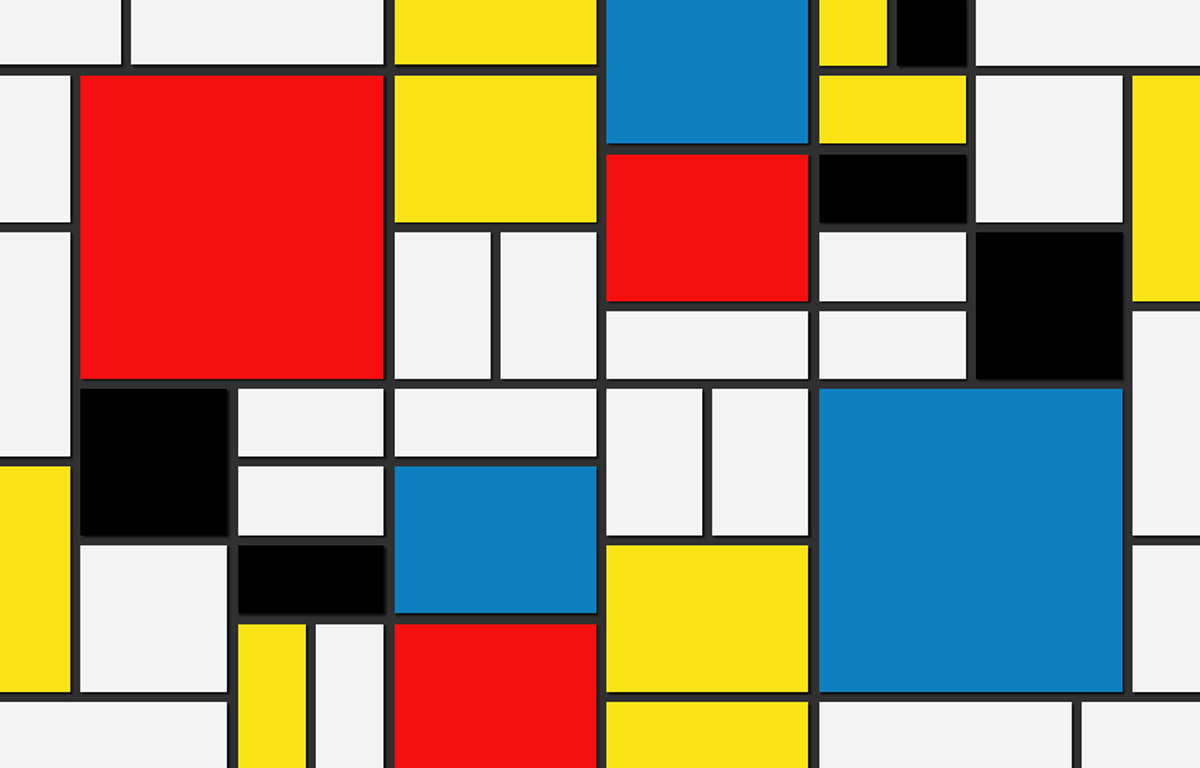
Por uma vez, o ContraCultura vai formular uma teoria que, sendo especulativa, não é conspirativa. A Teoria do 1 propõe muito simplesmente que, por trás do espírito criativo dos grandes mestres da história da arte, está frequentemente a pulsão obsessiva para desenvolver as tentativas necessárias à realização de uma grande Obra Única.
A preocupação nítida do génio não é a diversidade estética, é a unicidade semântica. Nesse sentido, todo o autor imortal repete-se exaustivamente na tentativa de atingir, dentro do seu registo eleito, um estado de graça puro e deleitoso que depois sirva de referência transversal ao porvir de uma determinada civilização. A tese que o Contra defende neste texto é a de que o romancista imortal aspira somente pela redacção de uma história de valor ontológico absoluto. O cineasta monstro sagrado só deseja captar uma sequência perfeita. O génio renascentista não pede mais que autorização para decorar aquele específico tecto da capela onde o Papa vai à confissão. O mestre do Barroco pretende apenas chegar à plenitude de um andamento que entre na frequência modulada de Deus.
O máximo protagonista desta tese é, obviamente, o Senhor Homero. Num livro só (a história foi partida por critérios editoriais muitos milhares anos depois de ser contada) reside a totalidade das rábulas possíveis e imaginárias e estão lá integralmente os personagens que foram ser o barro da literatura como a conhecemos hoje. Desafio o leitor mais céptico a indicar um enredo que não esteja já gravado no holístico poema composto em hexâmetro dactílico. Convido a discordante leitora a encontrar uma dupla funcional de protagonistas do mesmo sexo que fujam ao registo de Ulisses e Aquiles. D. Quixote é Aquiles senil e tresloucado. Sancho Pança é Ulisses depois de ter saltado duas refeições. Hamlet é Aquiles, emocional e ressentido. Horácio é Ulisses, desapegado e racional. Pyotr Kirillovich Bezukhov (“Pierre”) é o Ulisses da aristocracia moscovita, Nikolai Ilyich Rostov é o Aquiles da caserna hussarda. Astérix é Ulisses em baixinho, Obelix é Aquiles em gordalhucho. Também Hardy (“Bucha”) é Aquiles. Também Laurel (“Estica”) é Ulisses. Tintim é o Ulisses do pós-guerra. O Capitão Hadock é o Aquiles da marinha mercante. E assim sucessivamente.
Acresce que todo o vilão é por natureza literária um Agámemnom, todo o filho pródigo é um Heitor, todo o pai que enterra o seu filho é Príamo, todo o degenerado é Paris e todas as gandes damas de Hollywood são Helena (será talvez por isso que a duração média dos casamentos em Los Angeles não excede as 24 horas). Em qualquer romance ou filme de guerra encontraremos também e seguramente um herói bravo e descomplicado como Ajax, mas adiante.
Seria impossível defender este teorema sem a preciosa ajuda de Jorge Luís Borges. Está por explicar como é que o Aleph é diferente da História Universal da Infâmia, por exemplo. É a mesma maravilhosa coisa, vezes sem conta: corredores e corredores de literatura no caminho para o mistério da história e da existência humanas. Lá chegados ganharemos a imortalidade se soubermos voltar para trás. Imaginem que Hegel nasce em Buenos Aires, tem queda para a matemática e vai todos os dias à biblioteca municipal fazer musculação. Mas ao contrário. A cartografia um por um dos impérios imaginários que ascendiam e decaiam na imaginação do bibliotecário de Buenos Aires corrobora que se farta a teoria que aqui se escrevinha.
Johann Wolfgang von Goethe também não me falha com argumentos: o jovem Werther é um fantasma omnipresente que ensombra não só toda a restante produção do gigante romântico de Frankfurt como toda a literatura alemã. O desgraçado adolescente percorre aliás o portfólio de alheios acervos literários e filosóficos. Werther irá ser Lev Nikolayevich Myshkin, em “O Idiota” de Dostoievsky mas já tinha sido Cândido pela pena de Voltaire porque a literatura suspende as setas do tempo. Werther é Goethe a namorar com Rousseau. Werther é a filosofia liberal a levar a necessária porrada da vida. O encanto estético e o desencanto político do romantismo. Para todo o sempre.

Outro pertinente espécime deste exercício especulativo é Franz Kafka, que na verdade passou a vida toda a escrever o mesmo livro. A história é esta: o homem é impotente perante o seu destino trágico. Será uma barata, será um escravo, será um burocrata, será pequeno perante as ameias da fortaleza de Deus, não interessa. O que é importante é o fado e o facto do fado escapar à responsabilidade individual. Todos os heróis de Kafka são Heitor.
James Joyce, esse grande copista de Homero, esse grande discípulo de Lawrence Stern, vem aqui ao caso e não só por causa de Ulisses, cuja convergência é de óbvia circunstância. Joyce era um formalista. E todos os seus escritos sagrados são essencialmente de virtude técnica. É cristalino que mais lhe importava a forma como se conta a história do que a história que é contada. É essa a unicidade da sua obra. É essa a sua mensagem sobre o tempo: pega numa qualquer fábula é dá-lhe liberdade estilística, que a criatividade há-de triunfar sobre a intriga. O argumento rendeu, como qualquer pessoa que já tenha visto um filme de David Lynch ou lido um livro de Haruki Murakami percebe facilmente.
Na literatura portuguesa há uma variedade imensa de ilustrações para enriquecer a validade da Teoria do 1, entre repetições incontáveis de Camilo, lamentos únicos de Bocage e viagens iguais de Garrett, mas o destaque reside em três exemplos modernos: toda a obra de Vitorino Nemésio é produto das instáveis condições climatéricas que afectam o braço de mar que separa as ilhas do Faial e do Pico. António Lobo Antunes podia muito bem ter escrito apenas um romance elíptico, sobre a angústia de um personagem desesperadamente necessitado de ansiolíticos e constantemente atirado para os opostos magnetos da guerra colonial em África e da paz de uma certa quinta em Benfica, que não se perdia nada. José Saramago só precisava de ter escrito o Memorial do Convento para merecer completamente o Prémio Dinamite e permanecer eterno pelo Olimpo da Língua Portuguesa.
Mas virando o disco: que raio fez Bach pela história da arte senão repetir o princípio básico de que a música é um elemento de transcendência? Toda a pauta do homem é uma oração, e o resto são variações. O Contra tem aliás a humilde mas firme suspeita de que o Kapelmeister concordaria com o espírito deste artigo. Ele mesmo tratou de informar a posteridade que certos prodígios como o Cravo Bem Temperado ou as Variações de Goldberg não passam de meros exercícios de oficina ou elaborados soporíferos, e que os concertos de Brandeburgo não vão para além da ciência política. Não era por coisas pequenas como estas pequenas coisas que Johann queria ser lembrado, não. Os ouvidos de Deus são mais exigentes que todos os caprichos do Príncipe de Dresden.
O bem amado Stephen Merrit vem a este propósito porque dedicou uns anos da sua gloriosa vidinha a compor 69 músicas de amor. A repetição ad nauseam do mesmo tema como fundamento estético está na base do grande feito criativo. Não se pode eleger um tema neste álbum pela simples razão que as 69 cantigas são só uma. E eis algo de alquímico.

Cala-se o gira-discos e destapa-se a tela. Edward Hopper, será talvez a evidência rainha, nas artes visuais, para o fundamento da Teoria do 1. O homem limitou-se a seguir por uma única tonalidade conceptual. A substância cenográfica é invariavelmente a da mais intensa solidão humana; tela sobre tela, os personagens iguais, as urbes indiferentes, as sombras cópias. Hopper só queria pintar uma tela: a do abandono do ser humano no deserto da cidade.
Quanto a Picasso, que pode ser e provavelmente foi o mais prolixo artista plástico da história da arte, qualquer pessoa que conheça a obra levantada previamente para atingir a grandiosidade narrativa de Guernica percebe que o homem só desejou criar na vida, por uma vez, algo assim.
Iluminárias pós-modernistas como M. C. Hescher, Piet Mondrian, Rene Magritte, Jackson Pollock e Jasper Jones não fizeram mais que repetir incansavelmente um tema qualquer que lhes agradou de sobremaneira. Hescher repetiu a adulteração da perspectiva e da tridimensionalidade das coisas, Mondrian repetiu a sua árida geometria cromática, Magritte repetiu o chapéu de coco, Pollock repetiu uma ideia peregrina de salganhada gráfica, Jones repetiu a mesma textura expressionista sobre qualquer coisa que pintasse e nem vale a pena repetir mais autores que procuram a consolação nas variações de um mesmo tema, porque é um assunto sem fim.
Outro maluco, Warhol nunca deixou por um momento que fosse de aperfeiçoar um mesmo retrato do mundo. Os bonecos dele são nitidamente ensaios para uma obra una e conceptual e os filmes são experiências desse laboratório. A arte é uma filosofia, é uma ideia de Feuerbach. Nasce para que se repita até ao zen absoluto. O primeiro filme de Andy dura para aí umas sete horas. É o registo fílmico de uma noite bem dormida pelo poeta John Giorno. Podia muito bem ter sido a única coisa que Andy fez na vida e nem vale a pena dizer mais nada.

A propósito de serpentinas de celuloide, o grande mestre Howard Hawks, que é um valente campeão desta tese, realizou a mesma fita três vezes. Em três filmes um único enredo reescrito sempre pelo mesmo guionista. John Wayne é por 3 vezes o mesmo herói e Robert Mitchum é em duas das tentativas o lamentável bêbado que encontra a redenção. Falo, claro, de “Rio Bravo”, “Eldorado” e “Rio Lobo”. Hawks quis esgotar o modelo até à perfeição e não importa nada se o primeiro filme é ou não, de facto, o melhor pedaço de cinema. A arte não é uma qualidade, é uma perseguição.
E já agora: Kubrick passou a vida à procura do mesmo mistério e o Tom Cruise de “Eyes Wide Shut” é igualzinho ao Peter Sellers de “Dr. Strangelove” e ao Ryan O’Neal de “Barry Lyndon”. Todos são Aquiles na senda de um paralelepípedo na órbita de Júpiter. Spielberg fez só um filme, porque todos os filmes de Spielberg são os necessários volumes de um manual de normas para a Boa Estética Popular. O muito contemporâneo Christopher Nolan pode entreter-se com super-heróis, viagens interestelares ou o êxodos de Dunquerque: está sempre a filmar a mesma longa metragem que conta essencialmente uma história apenas: a queda do homem. E no que ao Senhor Lars Von Trier diz respeito, este vosso escriba ainda não conseguiu detectar as diferenças fundamentais entre “Europa”, “Dogville” e “Melancholia”. Os três filmes podiam ser condensados num só, sob o título: “Estrada para a Perdição”. O que é difícil na arte do dinamarquês é ver para além das semelhanças.
Podia, também eu, entrar na espiral divina da repetição e ficar para aqui horas e horas nisto de vos prometer que Shakespeare só desejava criar uma peça de teatro, que Velásquez trocaria todas as suas telas por uma tonalidade de vermelho, que Pessoa só escreveu a Tabacaria, que Steinbeck não valorizava a imaginação tanto como a repetição, que Mozart nunca rezou por mais que um refrão divino ou que Hitchcock morreria satisfeito na mesma, se só tivesse dirigido aqueles segundos em que os corvos desatam a mordiscar a Tippi Hedren, mas já basta o que basta. A tese repousa.
Relacionados
18 Mar 25
“Severance”: televisão acima da média.
"Severance", que navega num imaginário de espaços liminares e ficção científica do género noir, é ainda assim um produto televisivo de carácter original e guião competente, que se sobrepõe claramente à média contemporânea, e cujo consumo o ContraCultura recomenda.
15 Mar 25
A Morte de Marat: Entre a dor e a propaganda.
Clássicos do Contra: Um revolucionário jaz morto na banheira. O retrato é uma obra de propaganda jacobina, emblemática da Revolução Francesa. Mas para além da manipulação, Jacques-Louis David também expressa a dor de quem perde um amigo.
15 Fev 25
Paixão, angústia e êxtase: O “Adagietto” de Gustav Mahler.
O quarto andamento da Quinta Sinfonia de Mahler é uma joia do romantismo tardio, que resultou em duas histórias de amor: a do compositor e de Alma e a de gerações de melómanos que se apaixonaram por esta obra-prima de contenção e vontade de infinito.
14 Fev 25
Disney suspende programas DEI devido à pressão dos accionistas.
A Walt Disney Company parece estar prestes a ser a última grande empresa a interromper as suas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, devido à pressão dos investidores. Mas é duvidoso que os conteúdos fílmicos e televisivos sigam para já a mesma tendência.
10 Fev 25
Teatro francês à beira da falência depois de acolher centenas de ilegais que se recusam a sair.
Um teatro francês de militância esquerdista está à beira da falência depois de ter aberto as suas portas a cerca de 250 imigrantes africanos que se recusaram a abandonar o local depois de lá terem permanecido durante cinco semanas.
3 Fev 25
Quadro comprado por 50 dólares numa venda de garagem é um Van Gogh que vale 15 milhões.
Uma pintura descoberta numa venda de garagem em 2016, e adquirida por 50 dólares, será uma obra autêntica do mestre holandês Vincent van Gogh, que vale cerca de 15 milhões, com base num exaustivo relatório forense.





