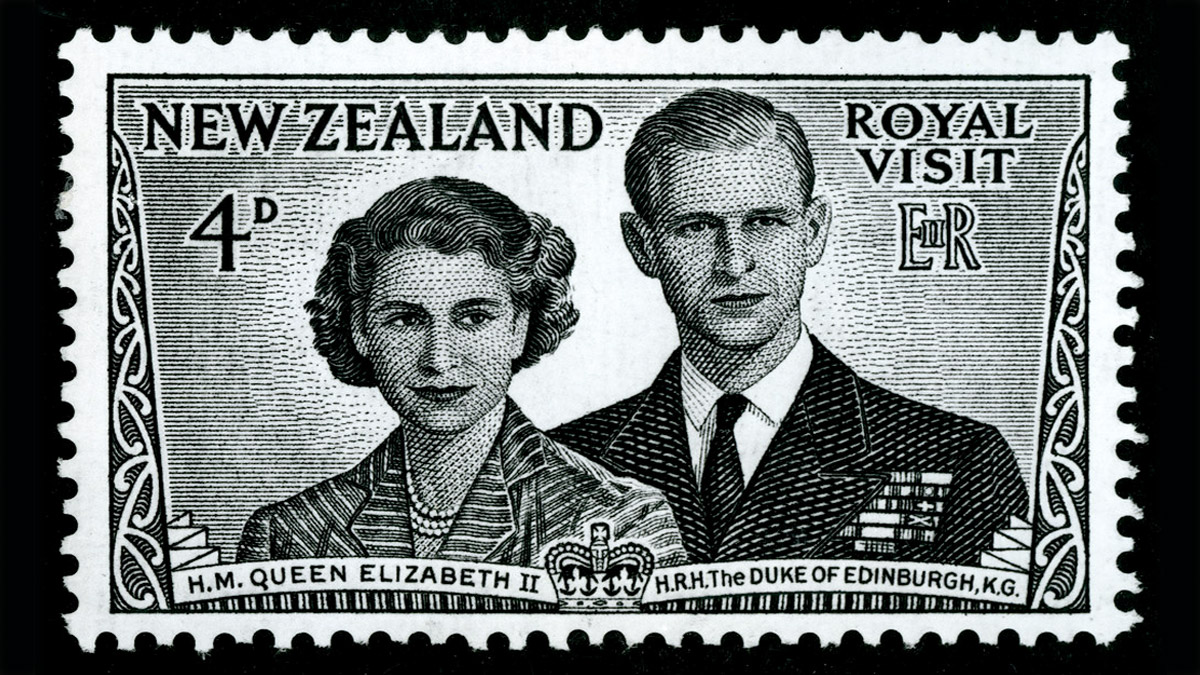A propósito da morte da Rainha Isabel, Tucker Carlson constata o óbvio: que a senhora serviu mais anos que qualquer outro monarca britânico (e mais anos do que qualquer mulher foi chefe de estado, desde que as mulheres são chefes de estado). Que teve uma vida de serviço, numa era deprimente, em que o império britânico acabou por se desagregar e perder. No ano em que subiu ao trono, Edmond Hillary e o sherpa Tenzing Norgay subiram pela primeira vez ao cume do Evereste, transportando consigo a glória da civilização de que a rainha de 26 anos era máxima representante. Mas já nessa altura o império conhecia a ruína. Ironicamente, foi depois de sair triunfante de duas guerras mundiais, ocorridas no espaço de trinta anos, que a Inglaterra soçobrou. E no momento da sua morte, “Lilibeth” deixa uma nação em estado catatónico, empobrecida e reduzida a um mínimo espaço vital de habitabilidade e influência.
Mas Carlson não é propriamente conhecido por se limitar a axiomas redundantes e evidências superficiais e aproveita para fazer notar certas verdades mais profundas e inconvenientes que nas últimas décadas têm sido obliteradas da consciência colectiva ocidental.
Contra todas as probabilidades demográficas, geográficas, logísticas e ontológicas, o império britânico foi o mais vasto, o mais bem sucedido, o mais tolerante, o mais benigno, o mais diverso e o mais construtivo da história da humanidade. Com a excepção da guerra dos Boers (que, como holandeses brancos, não eram propriamente indígenas africanos, tendo eles próprios cometido sobre os nativos alguns horrores), o colonialismo inglês não cometeu genocídios. Foi nesse sentido excepcional. Não era um perfeito modelo de governação dos povos, obviamente, porque a perfeição não é da condição humana e porque não foi construído à luz daquilo que achamos hoje que é moral ou correcto ou justo, mas foi de longe o sistema global mais estável e próspero e humanista de que há registo.

O império que Isabel herdou, ou o que restava dele, construiu nações onde tinha encontrado o caos tribal, levantou a civilização onde triunfava a barbárie, fundou o estado de direito onde reinava a lei do mais forte, edificou estruturas de progresso e prosperidade como caminhos de ferro, indústrias transformadoras, pontes, estradas, hospitais, escolas. Impôs a paz duradoura em inúmeros territórios que não conheciam senão a guerra e a lógica de predação. Educou os melhores dos seus súbditos, vindos dos locais mais antípodas, dentro da tradição de excelência académica dos seus liceus e das suas faculdades. Formou médicos em Bombaim, advogados em Bagdade, engenheiros em Campala. Deu a todos estes povos desse império onde o sol nunca se punha uma língua comum, um legado cultural, uma moeda, um regime constitucional, um conceito de legitimação do estado e de igualdade perante a lei, um mercado económico de potencial transcendente, que ainda hoje funciona e é relevante, uma coroa icónica e agregadora.
Foi tolerante com religiões, cultos, tradições, culturas e costumes. Foi firme na aplicação da lei. Foi flexível na adaptação dos seus princípios fundamentais às especificidades de cada colónia. Ao contrário dos americanos, que como foi eloquentemente ilustrado pelo triste e vergonhoso episódio do Afeganistão, deixam os países onde desastradamente intervêm no caos em que os encontraram quando lá chegaram (ou pior do que isso), os ingleses deixaram condições materiais e imateriais de progresso, independência económica e estabilidade geopolítica. Apesar disso, o que aconteceu às nações que se libertaram daquilo que é vendido às massas como o “jugo” britânico? O regresso do caos tribal, o retorno à lógica da tirania e do caciquismo étnico, a miséria, a escravidão, a guerra e a fome. Do Uganda à África do Sul, do Zimbabwe a Myanmar, do Iraque a Papua Nova Guiné, que ganharam os povos com o recuo e a queda do império britânico? A autodeterminação, sim. E o regresso à pobreza, à ignorância, ao caos, à violência quotidiana e até mesmo à selvajaria dos tempos pré-imperiais.
Além disso, e considerando que a natureza tem o horror do vazio, outras potências apressaram-se a substituir o espaço desocupado pelos britânicos. Os Estados Unidos e o bloco soviético, primeiro, e depois a China. Nenhuma destas potências teve ou tem a visão construtiva, educadora e civilizadora do império britânico. A África contemporânea, informalmente colonizada pelos chineses, não mostra quaisquer sinais de progresso económico, social ou político. Para além das elites, que a China sabe conquistar, não há quem usufrua das vantagens deste colonialismo interesseiro, oportunista e muito mais racista do que alguma vez foi o sistema inglês.
Os imbecis que celebraram a morte da rainha Isabel nas redes sociais, com sádicos votos de sofrimento e afirmações vis de toda a espécie, querem fazer-nos acreditar num falso registo do império britânico. E são nessa obscena tarefa de lavagem cerebral, apoiados pela imprensa, pelas academias e pelos canais mediáticos da propaganda regimental. Para além de um revisionismo autista, que teima em julgar valores antigos à luz das modernas liberalidades, o movimento de supressão dos legados materiais das nações e dos seus percursos, que aniquila a dissidência e derruba estátuas e esconde símbolos e oblitera as literaturas e humilha os heróis e cancela as virtudes recordistas da herança ocidental, triunfa como um vírus que nos vai deixar destituídos da história, da dignidade e da coragem e da generosidade dos nossos antepassados e, em última análise, de identidade cultural.
Os britânicos ficaram 40 anos no Iraque, que é um estado inventado por eles. E quando permitiram a independência e coroaram o rei Faisal, o hino que tocou na cerimónia oficial da autodeterminação foi o “God Save the King”. Este pequeno episódio diz muito sobre o que foi o império britânico e o que não foi o americano, por exemplo.
Com a morte de Isabel II, morrem também os últimos vestígios do apogeu civilizacional do Ocidente. Fica só um pequeno e insular Reino, sem prestígio nem profundidade, economicamente debilitado, governado por elites alienadas e habitado por uma diversidade de gentes que não partilham valores nem legados nem ideais nem sequer um conceito de nação. É um funeral em que todos enterramos qualquer coisa de nós mesmos. Um último e fúnebre movimento sem promessas de renovação nem esperança no futuro.
Relacionados
19 Mai 25
Ex-director do FBI publica imagem que apela ao assassinato de Donald Trump.
O ex-diretor do FBI James Comey publicou uma fotografia no Instagram na quinta-feira que apela claramente ao assassinato do Presidente Trump. Pagará o preço da sua infâmia? Nem pouco mais ou menos.
16 Mai 25
Globalista escrupuloso? Chanceler alemão diz que a interdição do AfD “parece a eliminação de rivais políticos.”
Algo surpreendentemente, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que votar uma proibição do AfD no Bundestag não é o caminho certo, já que “parece demasiado a eliminação de rivais políticos”. Parece?
16 Mai 25
Conversas no D. Carlos:
Uma Estratégia para Portugal.
Miguel Mattos Chaves foi ao Guincho apresentar aquilo que nos 50 anos da Terceira República nunca foi ensaiado, mas está agora em realização na Sociedade de Geografia: um programa estratégico para Portugal.
16 Mai 25
Ex-senador e presidente da Coligação Judaica Republicana, Norm Coleman: “Os senhores do universo são judeus.”
Confirmando teorias da conspiração ditas "antisemitas", o ex-senador do Partido Republicano e presidente da Coligação Judaica Republicana, Norm Coleman, declarou que os judeus controlam o mundo, durante uma conferência em Jerusalém.
15 Mai 25
Pressão dos EUA pode ter forçado o estado profundo alemão a abandonar a perseguição e a vigilância sobre o AfD.
A agência de espionagem doméstica alemã suspendeu os métodos de vigilância autoritária sobre o partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), e a pressão da administração Trump pode ter desempenhado um papel significativo no processo.
15 Mai 25
Investigadores afirmam ter encontrado a Arca de Noé.
Investigadores americanos que trabalham na Formação Durupinar, situada a 30 kms do Monte Ararat, descobriram provas de estruturas angulares, corredores e uma área de porão soterrada na montanha, que podem confirmar a veracidade histórica da Arca de Noé.